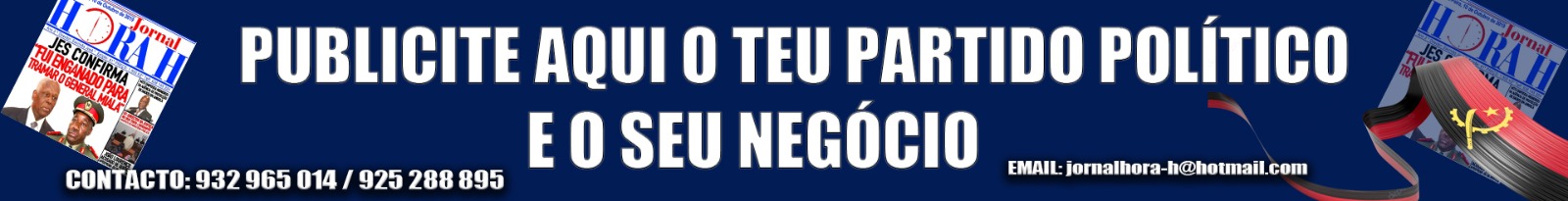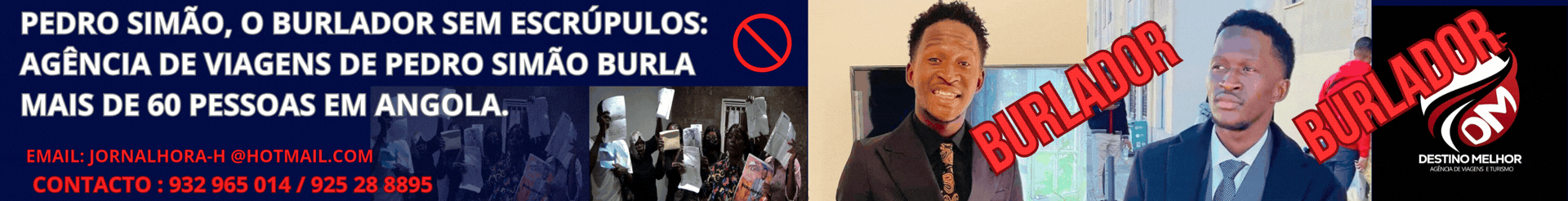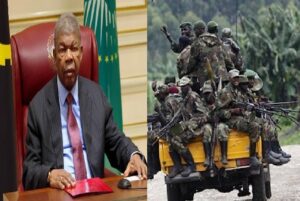A GUERRA EM ANGOLA NÃO FOI SÓ DE MEMÓRIAS TRAUMÁTICAS; DELA EMERGIRAM TAMBÉM APRENDIZAGENS DE RECONSTRUÇÃO E RECONCILIAÇÃO NACIONAL – KAMALATA NUMA

É verdade, a guerra em Angola não significou apenas memórias traumáticas; dela emergiram aprendizagens brutais de reconstrução física e humana, lições involuntárias de reconciliação nacional forjadas na lama das trincheiras e na fome um processo orgânico que as elites políticas jamais entenderam, pois estavam ocupadas a manter o status quo ou a coleccionar riquezas em palácios blindados.
Durante décadas, o discurso oficial insistiu em reduzir a guerra a um álbum de horrores: ossadas no deserto do Kuando-Kubango, crianças soldado com AKs maiores que seus corpos, estradas minadas a separar famílias como se fossem fronteiras de arame farpado. E é verdade. Mas Angola, esse território onde o absurdo se veste de normalidade e a tragédia dança kizomba, sempre foi mestra em extrair a vida da morte. Enquanto os generais desenhavam estratégias em mapas, o povo esse teimoso arquitecto da sobrevivência inventava uma nação nas frestas do caos. A guerra não foi só uma máquina de moer carne humana; foi também uma oficina clandestina de identidade colectiva.
Nas bases militares perdidas no Bié, nas matas do Moxico, de Malanje e do Wige onde a ideologia chegava distorcida pelas rádios de pilha, acontecia o impensável: o camponês de origem Umbundu partilhava farinha de bombó com o pescador Ambundo, descobrindo que “iputa” e funge, eram, no fundo, variações do mesmo gesto de resistência. O soldado ferido num ataque surpresa, era socorrido por uma enfermeira do Leste, do Norte ou do Sul e ali, entre gaze e soro, nasceu um pacto silencioso mais poderoso que os acordo. A guerra, com sua lógica perversa, fez o que a retórica colonizadora jamais conseguiu: misturou sangue, sotaque e história.
Até a economia tradicional, essa velha sábia que os planeadores socialistas e neoliberais desprezaram, encontrou brechas para florescer. O milho dos Ovimbundu, antes confinado às serras do Huambo, veio para o prato dos tchokwes, dos musseques luandenses e das gentes do Zaire. O gado do Cunene desceu para o litoral, desafiando fronteiras étnicas traçadas por burocratas em Lisboa. Até o dendê do norte se infiltrou nas cozinhas do sul. O caos logístico quebrou barreiras regionais e no vácuo da destruição, nasceu um mercado informal de identidades. Enquanto os tanques russos deixavam a cultura da violência, o povo realizava, sem decreto, a verdadeira integração nacional.
Mas eis o grande paradoxo angolano: enquanto o povo tecia reconciliação nos mercados paralelos e nas filas do pão, as lideranças vestidas de Armani transformavam a paz num negócio privado. Os mesmos que sentados em sofás de couro em Luanda, proclamavam-se “arquitectos da reconciliação”. A guerra terminou no papel, mas a intolerância política e constitucional recebeu cartão de crédito corporativo e escritório na Marginal. A “paz” tornou-se uma indústria extractiva petróleo para uns, diamantes para outros, e para o povo, o óleo de soja da sobrevivência diária.
Em Ngalanga ou no Kuito Kuanavale, onde ossos de heróis anónimos fertilizam a terra, ergueram-se monumentos de mármore importado. Alguns generais reformados, agora empresários do cimento e da banca, reciclam-se em “pacificadores” enquanto suas empresas cercam terras comunais. O MPLA, sempre hábil em cooptar narrativas, transformou a epopeia colectiva da luta anti-colonial em biografia exclusiva de um clã, como se Agostinho Neto fosse Moisés e os angolanos, Holden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi meros figurantes no seu éxodo particular.
Governar, camaradas, exige mais que discursos inflamados em mausoléus iluminados. Exige reconhecer que a verdadeira reconciliação não está nos tratados assinados sob holofotes internacionais, mas no camponês da Huíla que planta massambala onde antes havia minas terrestres. Não está nos “comités de especialidade” com salários ministeriais, mas no velho combatente da UNITA que bebe cerveja com seu vizinho do MPLA no quintal de um bairro popular, rindo das loucuras que cometeram quando a sigla importava mais que a humanidade.
Sim, a guerra deixou cicatrizes que sangram até hoje. Mas também deixou um povo que aprendeu, na pele, que Angola não é um slogan de comício nem um poço de petróleo. É a teia invisível que une o pescador do Lobito ao criador de gado do Virei, o vendedor de ginguba do Benfica ao professor universitário formado em Cuba. Uma nação que descobriu sua unidade não na Presidência da União Africana, mas na necessidade crua de carregar o caixão do vizinho mesmo que ontem tenham lutado em lados opostos.
Resta saber se os donos do poder, entrincheirados atrás de jipes blindados e guarda-costas israelitas, terão a coragem de admitir: o povo sem farda, sem doutoramento, sem conta offshore foi o único general que realmente entendeu o significado da palavra Pátria.
OBRIGADO!