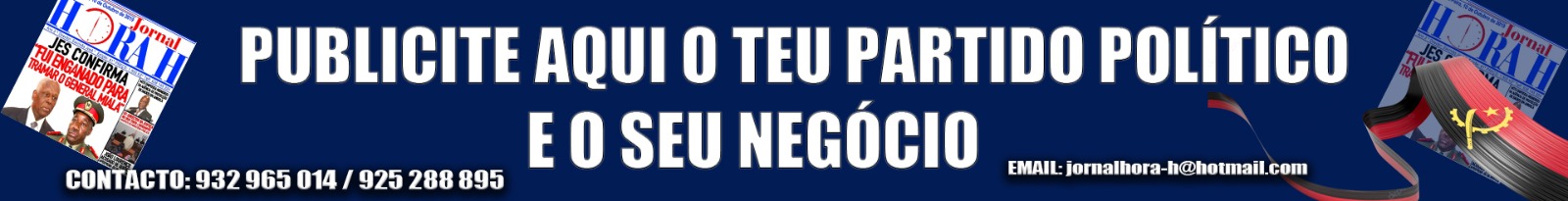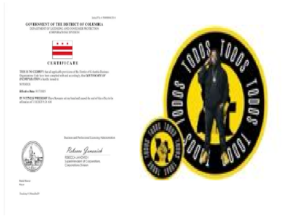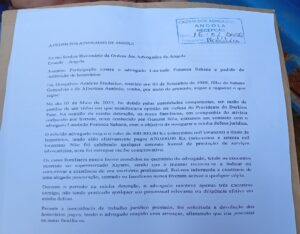O VALOR DAS PROPINAS: O ENSINO EM ANGOLA É UM COMÉRCIO DESORDENADO

A Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu um comunicado formal a “exortar o cumprimento do limite máximo de 20,74% [de aumento das propinas no novo ano lectivo] por parte das instituições privadas e público-privadas (desde o pré-escolar ao nível superior)”. A PGR faz o referido comunicado no “âmbito da defesa dos direitos colectivos e difusos”.
Numa primeira aproximação estranha-se o comunicado da PGR, habituada a vê-la essencialmente como titular da acção penal na vertente de repressão e punição. Aparentaria uma incursão da PGR em temas que lhe são pouco habituais.
Contudo, a verdade é que a Constituição, no seu artigo 186.º, d), determina ser competência do Ministério Público a defesa dos interesses colectivos e difusos. Os interesses colectivos e difusos são ambos direitos transindividuais, ou seja, ultrapassam o interesse de uma pessoa isolada.
Os interesses difusos pertencem a um grupo indeterminado e estão ligados por circunstâncias de facto, como o direito ao meio ambiente ou à saúde pública. Por exemplo, o direito de todos a respirar ar puro.
Já os interesses colectivos envolvem um grupo determinado de pessoas que possuem uma relação jurídica comum entre si ou com a parte contrária, como consumidores de um mesmo produto ou moradores de um condomínio. Por exemplo, os direitos dos luandenses a usufruírem da baía de Luanda sem poluição.
A educação pode ser tanto um interesse difuso quanto colectivo, dependendo do contexto. Como interesse difuso, representa um direito amplo e universal, garantido a todos os cidadãos de forma indistinta – por exemplo, quando se discute a melhoria da educação pública em todo o país, sem foco em nenhum grupo específico.
Como interesse colectivo, a educação manifesta-se quando um grupo determinado de pessoas, como pais de alunos de uma escola específica, procura soluções para problemas concretos, como a falta de professores ou a infra-estrutura escolar.
Assim, a educação é um direito fundamental que pode abranger toda a sociedade ou grupos específicos, de acordo com a situação envolvida.
Nesse sentido, não há dúvida de que na educação temos um direito difuso e colectivo e de que compete ao Ministério Público defendê-lo. Assim, foi prudente e preventivo ter a PGR emitido o comunicado referido.
O problema não está aí. O que se questiona é a fixação do valor das propinas. Até que ponto é legítimo o Estado fixar o valor das propinas de entidades privadas?
Não deveriam ser a concorrência e o mercado livre a fixar esses valores?
Não está o Estado a impedir o funcionamento eficiente de uma empresa privada, eventualmente condenando-a à falência?
A resposta não é linear. Mesmo os economistas mais liberais, como Milton Friedman, admitem que a educação não é um mercado de tipo individual livre. Explica Friedman no seu livro Capitalismo e Liberdade, que a educação possui efeitos de vizinhança — ou seja, impactos que vão além do indivíduo directamente envolvido e afectam positivamente toda a sociedade.
Uma sociedade democrática e estável exige que os seus cidadãos tenham um mínimo de instrução, pois isso contribui para a aceitação de valores comuns e para o funcionamento adequado do sistema de trocas voluntárias no mercado. Como esses benefícios se espalham entre todos, mesmo entre quem não está directamente a pagar ou a receber a educação, Friedman argumenta que a troca voluntária típica do mercado não é suficiente para garantir esse bem colectivo. Por isso, defende que o governo deve intervir limitadamente na educação, garantindo que todas as crianças recebam esse mínimo de instrução. No entanto, a sua proposta não é a manutenção de escolas públicas tradicionais, mas sim um sistema de vouchers educacionais: o Estado financiaria os pais com uma quantia anual por filho, que poderia ser usada em escolas privadas aprovadas. Assim, haveria liberdade de escolha e competição entre instituições, sem que o governo monopolizasse a oferta educacional.
Em resumo, Friedman admite que a educação não pode ser tratada como um produto qualquer do mercado, justamente devido aos seus efeitos sociais amplos. Mas propõe uma solução que combina intervenção estatal com liberdade individual e concorrência privada.
Em Angola, a questão da base educativa para todos coloca-se ainda de forma mais exigente do que aquela que Friedman apontava, pensando nas sociedades modernas ocidentais, até pela disfuncionalidade do sistema escolar e a arbitrariedade da intervenção do Estado. O sector privado tem um amplo leque de instituições, algumas das quais cobram cerca de 40 mil dólares por ano – escolas da elite e para alguns, poucos, privilegiados. Escolas que cobram estes valores têm uma procura inelástica, isto é, que não depende do preço. A isto acresce que muitos dos governantes e membros da oligarquia angolana têm os seus filhos a estudar em Portugal ou noutros países. Para estes, a intervenção do Estado e da PGR limitando as propinas é irrelevante. A questão coloca-se em relação às escolas com preços médios, que precisam da propina para sobreviver e são frequentadas possivelmente pelas classes médias e menos favorecidas, que têm dificuldade em pagar propinas mais elevadas. Aqui temos um verdadeiro problema social. As escolas dependem das propinas, e a intervenção do Estado retira-lhes receitas. Ao mesmo tempo, os frequentadores da escola, muito provavelmente, viverão com orçamentos apertados e dificuldades de pagamento. Aqui está o verdadeiro problema.
A educação é fulcral para o futuro do país como nação independente, e o Estado não consegue garantir infra-estruturas físicas para todos os estudantes. Eles são mesmo obrigados a ir para o ensino privado. Não é uma escolha, mas uma imposição. Por isso, tem sentido que o Estado limite o valor das propinas. No entanto, essa limitação não pode implicar a falência das empresas ou das associações de educação.
No final, não há outra hipótese para Angola ter uma educação que chegue a todos que não seja encontrar um sistema misto de financiamento, em que o Estado, as famílias e algum sacrifício do lucro das empresas, todos conjuntamente, contribuam para a existência de uma educação para todos.
Em Angola, não é sustentável imaginar que o Estado construa sozinho todas as escolas e assuma o custo integral de professores e infra-estruturas, dada a escassez de recursos e a dimensão dos desafios. Por outro lado, não se pode depender exclusivamente do sector privado, pois grande parte das famílias não dispõe de meios financeiros para custear a educação formal. Torna-se essencial adoptar modelos mistos e inovadores que transcendam a dicotomia entre público e privado.
Soluções como vouchers educacionais, em que o Estado financia directamente as famílias para que estas escolham entre escolas privadas credenciadas, permitem ampliar o acesso com liberdade de escolha. As charter schools – instituições privadas financiadas com recursos públicos, mas que operam com maior autonomia – oferecem caminhos para ampliar cobertura, mantendo qualidade e controlo. Além disso, em contextos mais informais ou rurais, é necessário validar formas alternativas de ensino, como projectos comunitários, ensino domiciliar ou iniciativas locais não convencionais.
A participação de igrejas e organizações não governamentais (ONG) também pode ser um reforço poderoso à rede educacional, oferecendo apoio pedagógico, espaços físicos e acompanhamento psicossocial, principalmente em comunidades vulneráveis. Complementarmente, as políticas de subsídios direccionados podem dar prioridade aos mais carentes, garantindo maior equidade sem comprometer a eficiência fiscal do Estado. É preciso repensar totalmente o sistema de ensino básico em Angola. Mudar tudo, sob pena de se formarem gerações e gerações mal preparadas, sem capacidade para o futuro.